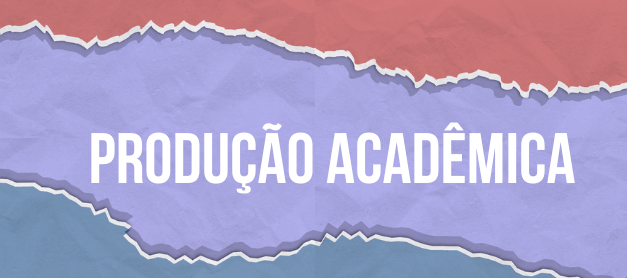Uma Mulher Palestra
por Bianca Rodrigues
Conheci a fome aos quatro anos de idade e se dizem que não é comum lembrarmos das memórias em fase tão nova de vida, te respondo que da fome a gente não se esquece nunca. Fazia um frio terrível em São Paulo, era 1994 e naquele dia chovia também, a água entrava pela cozinha da minha casa, bem pelo portão, os cachorros da vizinhança latim muito, um deles era grande e preto, era o Neguinho e só dele eu gostava, naquele dia ele estava preso numa coleira de metal, amarrado à parede, a água vinha e molhava as patas, o rabo longo e preto, eu chorava e pedia à mamãe que falasse com a Néia, nossa vizinha, minha mãe me mandava calar a boca e parar de chorar, mas eu não conseguia parar, Neguinho ia morrer no meio daquela chuva, era um dilúvio de água, os ratos submergiram do esgoto e nadavam, era horrendo, de dar medo e nojo, mas a minha mãe me dizia para que eu não tivesse medo dos ratos, ‘eles, a gente mata com uma paulada bem na cabeça, Tainara’, eu lembro bem do primeiro rato que eu vi minha mãe matando, eu e as crianças da rua estávamos peladas na calçada, a Néia molhava a gente com a mangueira e eu ria solto, todos nós ríamos, de repente um rato apareceu, o Mateus, filho da Néia, gritou forte, minha mãe saiu com a vassoura e correu atrás do rato, ele ainda tentou entrar no esgoto, mas a vassoura foi mais rápida, era sangue na vassoura, sangue no chão e sangue bem na perna da minha mãe, ela foi rápida e entrou pra se lavar, mas desde aquele dia comecei a ter pavor de sangue, mas isso é burrice minha, aprendi muito cedo na minha vida que preto não pode ter medo de sangue não, todo o dia nosso sangue escorre nas calçadas e isso na favela é sempre, eu tive medo de sangue até os vinte anos de idade, até lá a vida ou Deus me permitiram ter esse tipo de luxo, mas a minha mãe não temia nada, ela nunca temeu, assim ela se mostrava a nós, os filhos, ela não temia e quando carecia de coragem tomava pinga e saia andando e rindo.
Mas naquele dia de chuva, não importava quantos ratos passassem, minha mãe não saia com a vassoura para matar nenhum, eu contei dez ratos, meu irmão Jorge contou sete e uma ratazana com os filhotes pendurados nela, eu e Jorge discutíamos sobre o Neguinho, Jorge me dizia para não ter medo, o Neguinho ia ficar bem, a chuva ia parar e voltar pro córrego, meu irmão mais novo, João, chorava no berço, minha mãe de longe cantava pra ele e com o rodo tentava fazer a água sair da cozinha, ‘oh, Tainara, a mamãe tira a água da cozinha, a Néia também está tirando e pensa, a água é boa porque se o Neguinho estiver com sede ele se sacia’, mas Neguinho latia, Neguinho chorava e eu pedia à Nossa Senhora por ele, ‘oh, mãezinha! Não deixa o Neguinho morrer que eu nunca mais choro’, eu pedia à ela e chorava, ‘para de rezar, Tainara, pega o João e balança ele no colo, segura a cabeça! Jorge pega o outro rodo e joga a água pra fora comigo’. O João era o meu boneco, era assim que eu o via e tinha certeza porque eu brincava com ele, às vezes minha mãe ia tomar pinga e eu ficava com o João no colo, o Jorge fazia ele rir que era uma graça, ele se escondia atrás da parede e voltava, o João ria bem banguelo, eu ria também porque os dois rindo era muito bonito, mas naquele dia o João não parava de chorar e eu queria chorar também, o estômago roncava e eu sabia que ele também estava com fome, eu fazia carinho no rosto dele e beijava as bochechas, o pézinho direito, tentava não chorar mais. João era mais magro do que devia ser e já tinha nove meses, o leite da minha mãe havia secado e a gente misturava água com leite em pó e dávamos na mamadeira a ele, ele bebia tudo, minha mãe chamava ele de bezerro, para mim, era o meu bonequinho que mamava e fechava os olhinhos, eu até hoje sinto falta dele e fico pensando como ele seria se tivesse crescido conosco, talvez não grande coisa, eu mesma não era grande coisa, mas trabalhava bastante, era caixa de um mercado bem na capital e acordava cinco horas da manhã para pegar a condução - dois ônibus e depois mais quinze minutos andando, não há tempo ruim para quem trabalha num supermercado, é puxado, segunda-feira até sábado e em certos dias no domingo também, na véspera do Natal o lugar enchia, os clientes se aglomeravam para aproveitar as promoções para a ceia, na minha casa Natal não era uma data que a gente ligava muito não, essa história de presente é coisa de rico, minha mãe dizia que ter aquela comida lá já era presente e eu concordo, quando éramos crianças mal tinha comida todos os dias, imagina no Natal, às vezes a Néia ou outro vizinho trazia uma marmitinha com arroz, frango e farofa, às vezes tinha um copo com refrigerante também, eu lutei muito quando fiquei mais velha para que a minha família pudesse fazer uma ceia no Natal, eu pensava que seria bonito todos nós arrumados e tomando coca-cola como nas propagandas e a minha mãe tiraria do forno um peru gordo, mas isso era impossível, não tínhamos forno e uma época também foi difícil comprar o gás.
Foi coisa de quinze minutos naquele dia, mamãe empurrava a água para fora e a água se trazia para dentro, Jorge subia as calças pra não molhar a barra que era maior do que as pernas dele, João chorava de ficar vermelho, ficar quente e eu assoprava para ele se esfriar, achava que aquilo ia dar certo, que o João ia ficar com a temperatura normal novamente, mas não ficou, de repente o João começa a babar, a se debater, uma gritaria uníssona, minha mãe balança ele para que ele parasse de se sacudir, Jorge desesperado gritava ajuda na calçada, os pés molhados, um chinelo já havia sido levado pela correnteza, me reclinei na parede me abracei, meu estômago doía, João tremendo e minha mãe em desespero, um vizinho finalmente ajuda e pega o carro para levar o João ao pronto-socorro, eu e Jorge ficamos em casa, tirando a água com o rodo, a gente chorava e eu pedia a Deus pelo João, o Jorge pedia também pelo Neguinho e a gente com os pés molhados, com as pernas também, molhando o rosto de lágrimas.
Eu sempre fui quieta. Uma criança calada, minha mãe vivia me perguntando se o gato havia comido a minha língua, eu nunca entendia qual seria a razão que o gato comeria a língua de alguém e no dia que perguntei isso a ela, levei um tapa bem na orelha, Jorge me dizia para não perguntar coisas idiotas para a mamãe, que ela não tinha paciência e estava cansada, minha mãe sempre estava cansada e eu só consigo lembrar de alguns dias que ela estava tranquila e descansada, eram os dias raros da igreja, às vezes íamos à missa, minha mãe separava as roupas mais novas e evitava as que tinham furos visíveis, a gente lavava o cabelo e a minha mãe alisava no ferro quente o meu, ela colocava um perfume nos nossos pescoços e saíamos andando até a igreja, uns vinte minutos até chegar na entrada, Jesus estava lá também, pendurado bem na porta, eu tinha medo daquela imagem dele com os pregos nos pulsos, mas minha mãe o chamava de salvador e eu chamava também e às vezes pedia a ele que trouxesse comida ou fizesse a goteira de casa sumir, mas dentro da igreja tudo era bonito e as imagens dos santos brilhavam quando o sol batia, a minha favorita de todas era Nossa Senhora Aparecida, o manto dela era azul e a pele era preta, a coroa era grande e dourada lá no fundo da igreja tinha um altar com ela, eu às vezes ia e olhava, a emoção tomava conta de mim e eu queria chorar vendo ela bonita e estendida, o seu sorriso era bondoso e ela de algum jeito poderia me proteger, eu tinha certeza disso até aquele dia da chuva. A chuva parou e o Neguinho sobreviveu, eu e Jorge conseguimos tirar a água de dentro e jogar para fora, mas o João não voltava e nem a minha mãe, então nós dois fizemos um pacto de esperar a mamãe, um dormia um pouco e o outro ficava esperando acordado e a gente ia revezando, a madrugada foi passeando pela favela e nós dois acabamos dormindo, uma hora a porta abriu e a minha mãe se ajoelhou no chão e disse que o João foi morar no céu com Jesus, assim eu entendi e nunca mais tive dúvida, Nossa Senhora Aparecida podia proteger alguns, mas não nós, ela era preta mas não olhava por nós, João morreu e dois dias depois o Neguinho também, eu e Jorge nunca mais gostamos de cachorro nenhum dos vizinhos, passamos a odiar a Néia por ter amarrado ele e não o ter tirado da chuva e uma mágoa começou a crescer no meu coração, a culpa era da minha mãe, ela deixou o João morrer e não teve pena do Neguinho, ela era ruim e eu nunca mais gostaria dela. Mas os sentimentos de criança são mutáveis e eu não pude ter ódio quando a vi tão triste como ela ficou, três anos depois da morte do João ela ainda chorava antes de dormir e ela nunca mais nos permitiu que citássemos o nome dele dentro de casa.
O meu silêncio foi o melhor de mim e ele me evitou algumas surras enquanto crescia, mas mesmo quieta, as crianças eram malvadas e naquela época bullying não existia ou pelo menos o conceito não tinha chego na minha escola, dessa forma muitas vezes eu apanhei, me chamavam de macaquinha do cabelo duro e batiam na minha cabeça com a mão bem fechada, o Jorge também deve ter apanhado muito, mas ele tinha vergonha e não falava, mas quase todos os dias chegava em casa com cheiro de mijo e com a cabeça suja de terra, eu não entendia o que havíamos feito e quando fiquei adolescente parei de me perguntar, Jorge parou de apanhar quando começou a andar com os garotos mais populares da escola, eles cabulavam as aulas e ficavam na frente do portão vendendo drogas, logo o Jorge começou a vender também e repetiu um ano, depois mais um e saiu da escola de uma vez, por anos ele viveu a vida do modo errado e sem decência, comprou correntes de prata e ia ao baile funk toda a vez que tinha, minha mãe não sabia o que fazer, no dia que nasceu a mágoa no meu coração, no de Jorge nasceu a indiferença à ela, quando ela bebia pinga, Jorge a chamava de bebum, minha mãe tentava descer a mão na cabeça dele, mas eu não deixava e Jorge sumia de casa e ficava dias sem voltar. Enquanto Jorge participava dessa vida torta, eu comecei a trabalhar com a minha mãe, todos os dias íamos a Osasco para vender cachorro-quente, levávamos o carrinho nas costas e íamos embora só de noite, pegando o último ônibus do dia.
Jorge melhorou quando o João nasceu, mas mudou de verdade quando a Júlia nasceu, ele tinha dezenove anos e começou a trabalhar de forma honesta e entregava pizzas, os filhos realmente transformam os pais e ele tomou jeito, mas a verdade é que o coração dele sempre foi bom, só era tudo tão difícil, mas ele era um bom rapaz. Naquela época do nascimento dos meus sobrinhos, pouca coisa passava na minha cabeça, às vezes eu ia no forró e outras vezes eu ficava em casa com a minha mãe, de vez em quando ainda íamos à missa, mas nunca mais Jesus me assustou ou Nossa Senhora me fez ficar emocionada, rezar era parte do que devia ser feito, eu rezava e ouvia a missa, no final ia embora e a vida voltava a ser como era, purê de batatas, salsicha na água vermelha, vinagrete e mostarda, não tinha objetivos e não pensava no que seria da minha vida, aprendi cedo que a vida seria todos os dias em que eu pudesse viver e isso era suficiente, mas um dia a polícia entrou na favela, era bem de madrugada e tudo estava quieto, os cachorros começaram a latir e eu e a minha mãe já sabíamos que eles estavam entrando, nos escondemos debaixo da cama e minha mãe começou a rezar, uns tiros, uns gritos, não era água que entrava na nossa cozinha naquele dia, mas sangue, novamente escorria o sangue da minha família pelo chão, eu tinha vinte anos quando vi o Jorge estirado no chão com a cabeça sangrando, as pernas sangrando e o peito também, perfuraram ele inteiro, do lado do corpo dele, duas caixas de pizza, ele foi um erro da polícia, atiraram sem querer e a minha mãe enterrou o segundo filho, ela ainda não tinha nem cinquenta anos.
Perder o Jorge me fez pensar na minha própria vida, o que eu faria dela, o que seria de mim. Por meses passei a ter medo de morrer e eu sabia que ser preta era o fardo que eu carregaria para o resto da minha vida, passei a tentar disfarçar a minha cor, alisava o cabelo e passava maquiagem mais clara que a cor da minha pele, era ridículo, mas me sentia assim protegida, não sei de quem, não sei de quem eu devia ter medo, quem era o meu inimigo, quem me queria morta estendida na frente de casa com o corpo todo furado igual ao de Jorge, mas eu sabia que não queria morrer, comecei a ajudar a cuidar dos meus sobrinhos, eles eram crianças e perguntavam do pai, a gente apontava para o céu e dizíamos que Jorge estava com Jesus e que de tanto que Deus o amava o levou, João não entendia e chorava pedindo para que o levássemos então ao céu, Júlia dizia que tudo estava bem, porque Deus nos amava muito. Resolvi que queria escrever quando Jorge morreu, eu escrevia diários e os guardava numa cômoda no quarto, lembro da primeira vez que me cativei pelas palavras, eu estava na quarta série, a professora trouxe folhas de sulfite e distribuiu uma para cada, ‘a tarefa de hoje é muito especial, vamos começar a nossa semana cultural na escola e todos vocês devem escrever uma poesia e me entregar até amanhã’, eu guardei a folha na mochila sem saber o que fazer, eu nunca fui boa com palavras, nunca fui boa em me comunicar, mas pensava muitas coisas, muitas palavras ficavam dentro de mim e não saiam da minha boca, mas aprendi a fazer com que elas saíssem no papel, no outro dia entreguei à professora o meu poema; A professora leu e chorou, minha poesia foi pendurada na escola e naquela semana ninguém me bateu, todos queriam falar comigo e me dizer meiguices, minha mãe foi chamada e parabenizada, ela não entendeu nada, ‘o que é mesmo poesia, professora? Não é nada ruim, é? Se for ela apanha’, não apanhei e minha mãe ficou feliz, eu me sentia como num dos dias da igreja que nos arrumávamos para sair, ela beijou a minha cabeça, ‘você tem os olhos do seu pai, minha filha e a sua inteligência é sua mesmo’. Comecei a escrever mais poemas e guardar todos, passei a escrever contos e às vezes até tentava escrever músicas, elas eram inocentes, eram bonitas, mas quando comecei a trabalhar e vender cachorro-quente, a vida ficou mais difícil e a poesia mais dura, as palavras mais brandas e de repente me tiraram daquele mundo dos livros, da literatura, a vida me colocou novamente no meu lugar, o lugar das batatas, da salsicha, da televisão chiada, dos latidos dos cachorros dos vizinhos, do córrego que ainda transbordava quando chovia e nos fazia lutar com todas as forças para que os móveis não estragassem, para que empurrássemos a água para longe, de volta para o seu lugar de origem, o fedor do córrego. Esse foi o meu lugar durante anos, o lugar do medo, é nesse pequeno buraco, fedido e habitado por ratos que os nossos sonhos definham, que somos acuados, que nos levam para mais e mais longe, no coração da periferia, no meio dos tiros e do medo, do choro, dos gritos e a piedade não é ouvida, a piedade se esconde dos pobres, ela se escondeu de mim, do João, do Jorge. Escrever seria uma tarefa dura, mas nos domingos levava minhas poesias para o centro de São Paulo e tentava vendê-las, ‘essa fala de amor, madame, é muito bonita, serve para o namoro, o marido’, ‘essa fala de tristeza, serve para ler num enterro, num funeral’, ‘essa aqui fala de Deus, que ele tem piedade, bom para presentar o pastor’, vendia uma, vendia outra, mas nem sempre é fácil, quando os policiais passavam olhavam feio, eu ia embora com medo de apanhar, mas apanhar deles foi uma vez só e depois daquele dia nunca mais, voltei a ter medo e guardei tudo na gaveta, voltei a ser o rato, o mesmo que o filho da Néia viu e que a minha mãe bateu na cabeça com a vassoura.
Ser rato tem algumas vantagens, não é de todo mal, se esconder na toca quando vem o perigo, sonhar à noite quando ninguém está vendo, às vezes me pegava pensando em escrever de novo e publicar, talvez numa editora ou em algum lugar assim, pensava se a professora ainda choraria lendo o que eu escrevia, se a minha mãe ainda me daria um beijo na cabeça de felicidade, mas a resposta era outra, era arrumar um emprego estável, minha mãe queria que eu trabalhasse com carteira registrada e falando com uma vizinha que falou com a outra, pude conseguir um emprego num supermercado em São Paulo, na Zona Norte, lá eu trabalhei por anos e por muitos anos a vida estava boa, Júlia crescia e se mostrava uma moça bonita e boa, participava dos eventos da igreja que a mãe dela frequentava, às vezes encenava como Maria e levava Jesus no colo, às vezes tinha barba no rosto e era Moisés no deserto, João também participava, mas a maioria das vezes era uma árvore, uma vez foi o mar que Moisés abriu para que os judeus passassem, minha mãe começou a ultrapassar dos cinquenta anos e isso me trouxe muita felicidade, de algum jeito eu tinha em minha mente que se ela ultrapassasse os cinquenta eu também ficaria viva e não me sucederia algum mal como com João e Jorge, os anos foram passando e compramos um forno, reformamos a casa e a cozinha não mais se enchia de água, a nossa televisão não chiava mais e eu me casei com Marcos quando completei vinte e seis anos, nos conhecemos no mercado, ele era motorista do caminhão de entregas.
O Natal passou a ser uma das datas que eu mais gostava e a minha filha, Ana Paula, sempre pedia que eu decorasse a casa com luzes e quando era dezembro eu e Marcos trabalhávamos dobrado, mas a Aninha ganhava presente, no dia da festa eu acordava bem cedo para arrumar as coisas, temperava o porco e o frango e ia trabalhar, de noite os colocava no forno e a Aninha ficava feliz, Marcos ficava feliz e até a minha mãe sorria, Julia e João reclamavam porque o arroz tinha uva passas e eu tomava coca-cola, era como nas propagandas, a minha vida parecia ter saído da televisão. Era meia-noite em 2019 quando eu ouvi a pregação do papa na missa do galo, Aninha dormia no meu colo e o Marcos lavava as louças da janta, minha mãe já estava dormindo e os meus sobrinhos dormiam também no sofá, o papa Francisco falava sobre o amor de Deus em Jesus encarnado, nele menino e como o amor de Deus era incondicional e até aquele momento o amor dele parecia de fato incondicional e bom e puro Marcos completou quarenta anos no dia 26 de fevereiro de 2020 e naquele mesmo dia na televisão, o tal do vírus chinês, estava em São Paulo com o primeiro caso confirmado, era mais uma doença, diziam ser uma gripe, me lembrei que eu nunca ficava gripada, minha cabeça começou a relembrar as últimas doenças que foram anunciadas na televisão: a gripe suína, a dengue, a malária no norte do país, a leptospirose numa favela da capital, tudo passaria então, mas fomos orientados a usar máscaras, a usar álcool em gel e em abril não tinha mais papel higiênico no mercado e eu tentava falar para os clientes que a culpa não era nossa, que era o tal vírus, que chegaria mais papel logo.
Era sábado quando amanheci com febre e tosse, era o coronavírus. Marcos passou a ficar em casa e a minha mãe não podia mais vender cachorro-quente, Ana passou a ter aulas pelo celular, que o Marcos emprestava para ela, eu fiquei na cama, mas não foi possível me isolar na casa, dois cômodos e a minha cama, do meu esposo e de Ana de um lado e uma cortina separando o nosso canto da cama da minha mãe, eu fazia o almoço e lavava as mãos sempre, não abraçava ou beijava ninguém e o Marcos começou a dormir no sofá, abríamos as janelas de noite mesmo que fosse perigoso. Se ser rato tem algumas vantagens, as desvantagens são muito mais significativas, na chuva você morre afogado, se não tem lixo para revirar você não come, alguém te bate com a vassoura e você morre lesionado, espatifado pelo chão e no perigo, meu Deus, você é pequeno e insignificante, tenta se esconder num buraco e alguém te acha e bate na sua cabeça, no medo você se encolhe, na doença você adoece e não sara, quando eu peguei COVID em uma semana estava bem, mas quando que eu poderia imaginar que uma criança se contaminaria como a Ana se contaminou? Foi rápido e sem notícias, ela ficava sem ar e foi entubada, foi para UTI. Quarta-feira, 16h da tarde, o meu chefe me disse do telefonema do hospital, ‘Ana faleceu, mãezinha, sentimos muito’.
A dor… ela transforma as pessoas, isso todo mundo diz, mas o que não dizem também é que a dor une e aquela dor uniu minha mãe e eu. Eu não era mais filha dela naquele momento, eu só era mãe, como ela também era e nós duas nos entendemos no meio dessa dor, a Ana, o João, o Jorge, todos eram um. Aquela mágoa de criança, aquela bem inicial, como lembrar disso me doeu, eu finalmente entendi exatamente a impotência de perder um filho, quando o João se debatia e minha mãe do lado não pode fazer nada e quando a Ana morria sem ar, à distância eu também não pude fazer nada. Essa foi a minha constatação, que somos impotentes. Faz um ano que a minha filha se foi e por coincidência foi exatamente nesse dia que eu tomei a vacina, todos vocês me conhecem aqui na comunidade, dona Néia desde que eu era criança, o convite de hoje foi honroso para mim e eu sei que a Ana ficaria feliz se soubesse que a mãe dela, sempre tão quieta, ganhou voz hoje para pedir a todos vocês que se vacinem, vacinem os seus filhos, conversem com os seus amigos, com os seus pais. Esse vírus mata, ele tira de nós tudo que amamos, ceifa de nós a razão da nossa vida, mas eu posso dizer que no meio disso tudo, o vírus não pode tirar de nós os nossos sonhos, hoje eu espero a Helena que está prevista para nascer no mês que vem, o meu leite vai proteger a minha menina e a vacina vai proteger todas as pessoas que serão importantes na vida dela, como vocês da nossa comunidade.